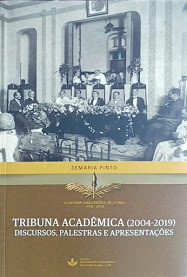Zemaria Pinto[1]
Transe é
crise e é passagem. Terra em transe,
o filme mais emblemático da frágil cinematografia nacional, é uma alegoria
neobarroco-expressionista sobre acontecimentos contemporâneos – da América
Latina, do terceiro mundo – na década de 1960. Pouco mais de 50 anos passados,
palavras como “alegoria” e expressões como “terceiro mundo” parecem tão
distantes no tempo quanto a ideia de juntar barroco e expressionismo sem o
prefixo que lhes confere status de coetâneos. Pois Terra em transe é um filme excepcionalmente atual, na medida em que
os conflitos existenciais do protagonista Paulo Martins são os mesmos vividos
hoje (e, talvez, sempre) por intelectuais divididos entre um ideal
anárquico-romântico-cristão, de servir ao povo e ao país, e a luta política de
bastidores, onde a ética põe-se de quatro passivamente diante da sordidez dos
interesses pessoais.
Aos 28 anos, Glauber Rocha[2] faz, em 1967, um filme que ele mesmo chamaria de repulsivo (ROCHA, 1981, p. 91, apud MACIEL, 2000, p. 58), não se referindo ao filme como objeto estético, mas ao seu conteúdo, que exteriorizava as angústias de um continente sob a tutela de ditadores ou de líderes populistas, cujo ódio à arte era materializado na censura inapelável. O próprio Glauber, justificando sua obra, diria que “Terra em transe não é um filme político; é um filme sobre política.”[3] O filme alegoriza a América Latina e a tensão permanente de golpe militar ou guerra civil que se abate sobre cada país do continente, mesmo os que, à época, viviam sob regimes “democráticos”. Essa tensão está presente até mesmo no uso da câmera de mão, acentuando o nervosismo narrativo do filme. Ao clima de terror permanente, Glauber Rocha contrapõe uma inusitada visão poética, exacerbada e grotesca, mas não inverossímil, porque a personagem Paulo Martins consome-se num inferno particular entre o desejo da poesia e a necessidade da ação política. Barroco nas antíteses, expressionista na realização antinaturalista e na postura da personagem central, Terra em transe utiliza-se de uma espécie de “carnavalização” cinematográfica, onde o aparente caos narrativo e o discurso rebuscado parecem tirados de um alucinado desfile de escola de samba.
Dialética da desesperança. O caráter didático de Terra em transe provocou polêmicas. Personagens esquematizadas,
planas, previsíveis, compondo a alegoria de Alecrim, província de Eldorado,
“país interior, atlântico”, resumo de uma república latino-americana. Eldorado
é também a capital do país, onde são tomadas as grandes decisões e onde se
ancora o poder financeiro. Poderia ser o Brasil, a Argentina ou a Bolívia –
países sob o jugo de ditaduras. Mas poderia ser o Chile, o Uruguai ou o Peru,
que viriam conhecê-las, ou reencontrá-las, na década seguinte, vivendo aquela
época sob constante ameaça. A dialética glauberiana, sob o disfarce estético do
filme, é clara: o povo precisa de líderes que o conduzam ao poder; mas, uma vez
no poder, os líderes não precisam do povo. A síntese desse paradoxo é a
desesperança. Um discurso fascista, acusava a esquerda; niilismo comunista,
atacava a direita. Obra de modernidade indiscutível, pela sua inserção em temas
tão atuais, que ainda hoje se mantêm vivos, o uso da alegoria – um recurso
desprezado pelas vanguardas da primeira metade do século XX – é um anacronismo
que não se dissocia do filme, desde a cena que marca o início do delírio de
Paulo Martins: a “primeira missa”, representação mítica da chegada do
conquistador estrangeiro, ao som de batuques ancestrais. Parece que a intenção
é mesmo levar o filme para o terreno do desfile das escolas de samba, onde o
termo alegoria tem um sentido bem pop.
Analisando o roteiro de Terra em transe, o primeiro ponto a ser tocado é com relação à primeira legenda, que aparece superposta a imagens aéreas do mar, de matas e montanhas, entre parênteses, tendo ao fundo um tema de candomblé:
(ELDORADO, PAÍS INTERIOR, ATLÂNTICO)
É a
antítese deflagradora da fábula, uma vez que “interior” e “atlântico” são
vocábulos que não se tocam; logo, Eldorado, uma alegoria da América do Sul,
identificado com o Atlântico, só poderia representar Brasil, Uruguai,
Argentina, Venezuela ou as Guianas. Mas não é isso que me causa desconforto,
pois, para a trama, Atlântico ou Pacífico é questão que não tem influência
decisiva. Em entrevista apensada ao DVD, o diretor de fotografia Luiz Carlos
Barreto diz que a orientação de Glauber era de que nenhuma paisagem poderia
identificar o lugar de filmagem, preservando-se o caráter simbólico de Eldorado[4] – é
bem verdade que algumas placas de lojas aparecem escritas em bom português.
Entretanto, a locução “país interior” parece-me ser uma das chaves para a
compreensão do filme. Interior a quê? Interior em relação ao quê? Se é
atlântico não pode ser interior. Logo, e considerando que o ponto de vista
narrativo do filme é de Paulo Martins, Eldorado, país atlântico, é uma projeção
daquela personagem, não apenas da sua memória, mas do seu desejo mais íntimo –
pela poesia, pela ação política e até seu desejo por Sara, resumidos em três
palavras: “fome do absoluto...” (ROCHA, 1985, p. 300).[5] O delírio de Paulo Martins,
que pontua quase toda a ação do filme, é um contraponto entre esse desejo e o
remorso pela traição a Diaz, seu “Deus da juventude” (p. 290), responsável
indireto pela sua morte, e, por conseguinte, pelo seu delírio.
Tecnicamente,
o enredo de Terra em transe começa em ultima res, passa por um longo flashback, até voltar ao ponto de
partida. Ao flashback, somam-se duas
cenas que não correspondem à “realidade”; antes, são frutos do delírio de Paulo
Martins, que, ferido, agoniza: a cena da “primeira missa”, com um toque de
reconstituição mítica do passado; e a cena da coroação de Dom Porfírio Diaz,
que se passaria, se verdadeira, após a morte de Paulo. Logo, é um flashfoward, dentro do delírio da
personagem, encerrando a trama numa totalidade fechada.
Farei um
resumo do filme, que poderá não parecer tão sintético quanto seria de se desejar.
Essa escolha, entretanto, tem uma finalidade objetiva: demonstrar que o roteiro
de Terra em Transe não tem nada de
ininteligível, confuso, caótico ou desconexo, como boa parte da crítica –
inclusive favorável – o classificou:
Terra em transe é a obra-prima da indisciplina narrativa, o clímax da
antitécnica – é o caos, ou só um disparate. (VIANA, 1985, p. 25)
É um filme contra, feio, confuso, até mesmo mal articulado no seu
roteiro, dissonante, carnavalesco em Alecrim e melodramático em Eldorado.
(LEITE, 1985, p. 26)
 |
| Glauber Rocha dirige Terra em transe. |
Este ensaio será postado em três partes, todas as sextas-feiras, até 21
de abril.
[1] Do livro A história como
metáfora e outros ensaios amorosos. Manaus: Reggo/AAL, 2018. p. 101-117.
[2] Glauber Rocha nasceu a 14 de março
de 1939, em Vitória da Conquista, na Bahia. Faleceu, aos 42 anos, no Rio de
Janeiro, no dia 22 de agosto de 1981. Entre 1961 e 1980, realizou dez
longas-metragens.
[3] No documentário Depois do transe, apenso ao DVD, o
diretor de fotografia do filme, Luiz Carlos Barreto, cita essa frase de
Glauber, como parte do “press book” do filme: entre 56min 02s e 56min 34s.
[4] Documentário Depois do transe: entre 37min 40s e 38min 23s.
[5] Com exceção daquelas assinaladas, todas as citações do roteiro de Terra em transe têm uma mesma fonte, mencionada nas Referências. Deste ponto em diante, citarei apenas as páginas onde as mesmas se encontram.