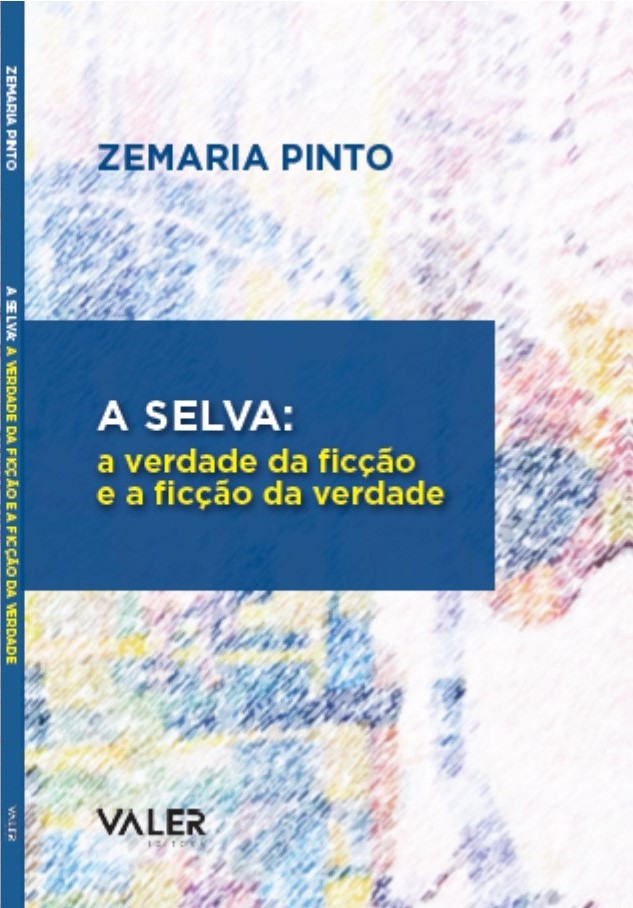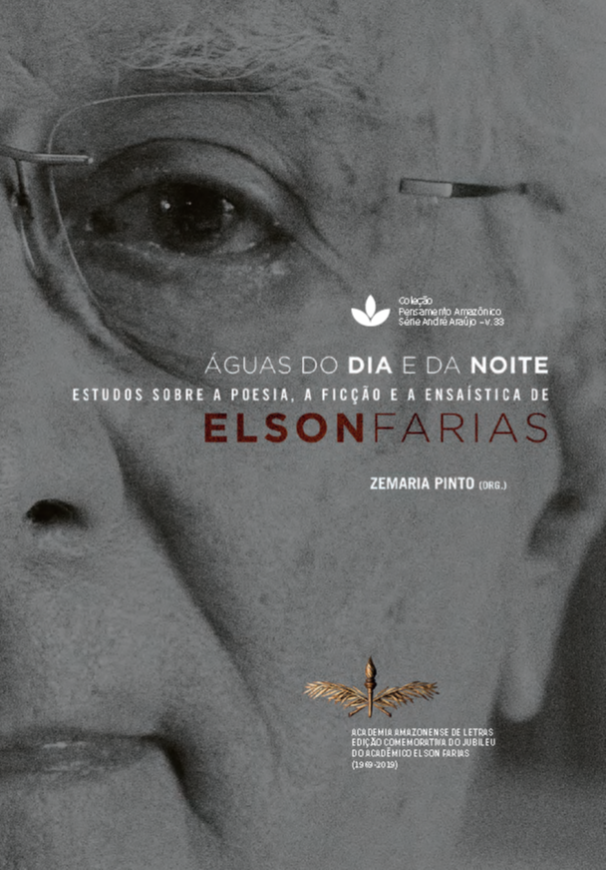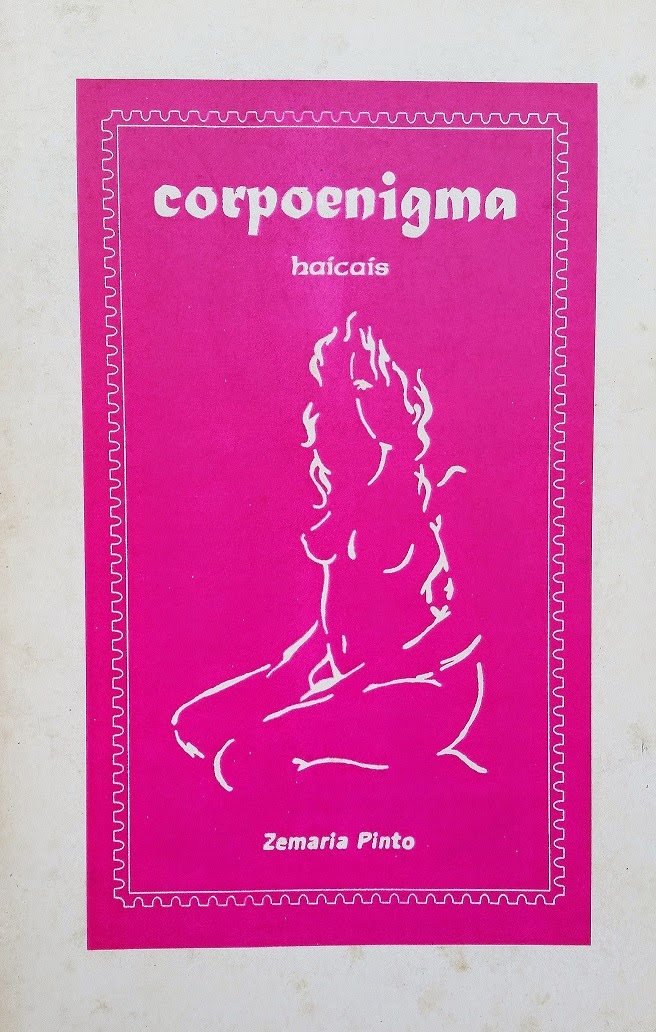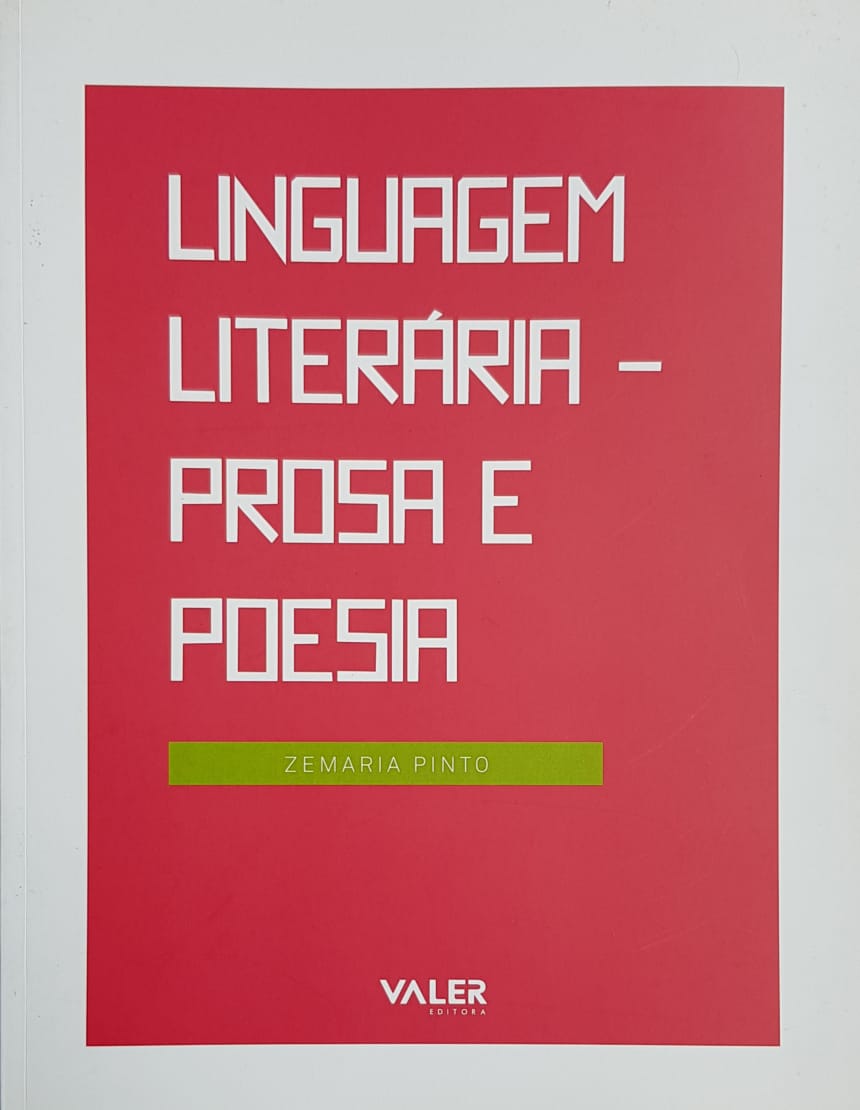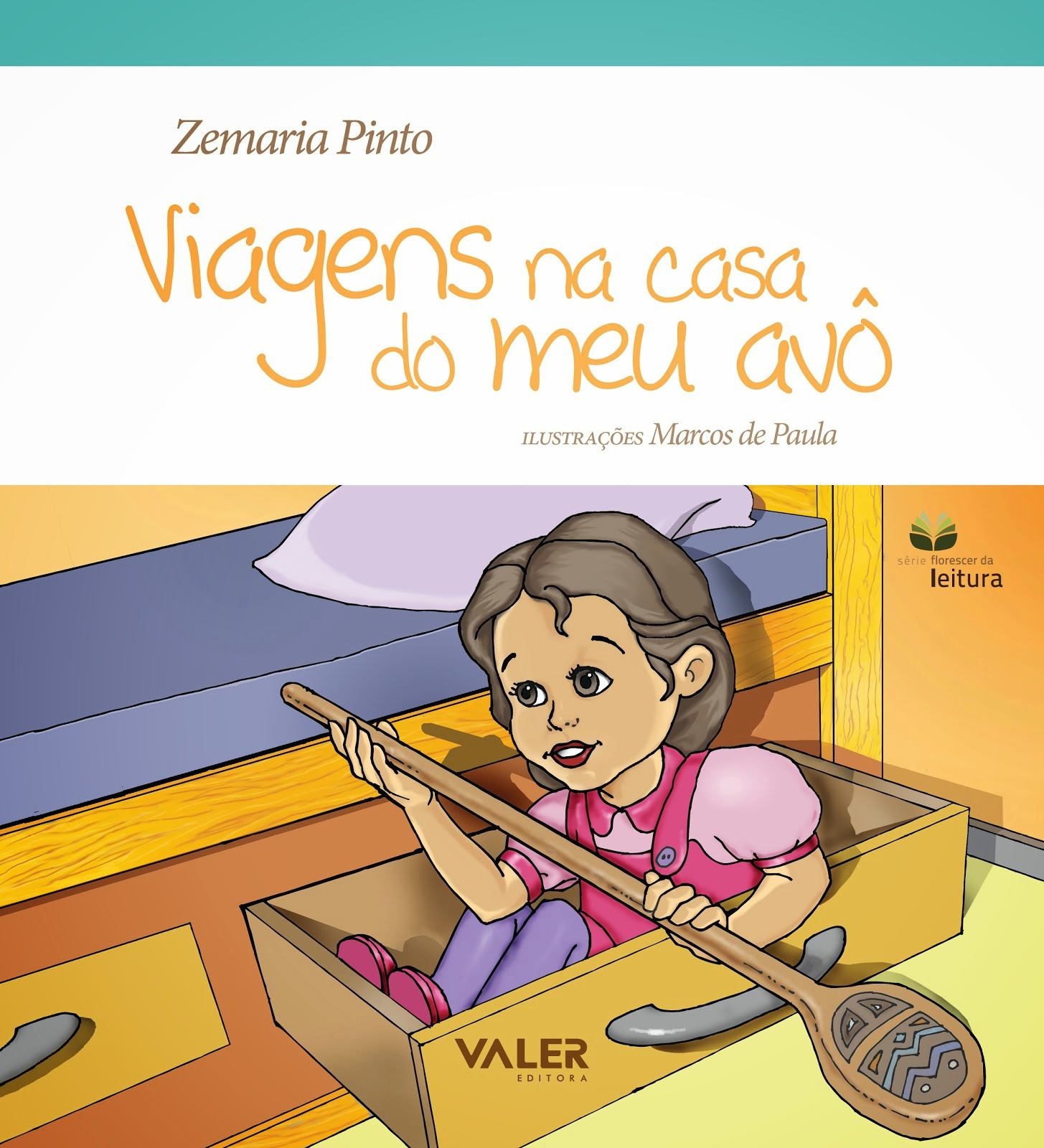Estrela de Belém, uma jornada ao
ventre da floresta,
nasceu de uma demanda da prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, que está com
uma forte atuação na área cultural, a cargo de Bosco das Letras. A ideia era montar
um auto de natal, com cores regionais, de modo a proporcionar a identidade da
população local com a atividade dramática. O diretor Nonato Tavares foi o
encarregado de arregimentar o necessário para viabilizar a solicitação. Tavares
contatou com o dramaturgo Zemaria Pinto, que aceitou de pronto o desafio.
Detalhe: o tempo era muito exíguo, pois o segundo semestre do ano já estava em
curso. Com a primeira parte do texto pronto, o diretor viajou a Santa Isabel,
para a escolha de elenco e local da encenação. Infelizmente, entretanto, o
projeto não vingou. Não para este ano, pelo menos. Com o texto completo, Nonato
e Zemaria resolveram mostrar ao público o resultado do trabalho na forma de
leitura do texto. Assim, no próximo sábado, 2 de dezembro, no MUSA do Largo, o
diretor e o autor, mais doze atores, estarão promovendo a leitura do auto de
natal Estrela de Belém, uma jornada ao
ventre da floresta.
A peça divide-se em duas partes: “A viagem” e “O encontro”. A
primeira parte se passa dentro do barco apropriadamente chamado “Estrela de
Belém”, aquela que, segundo a tradição cristã, guiou os reis magos até a
manjedoura onde nascera Jesus. Nesse barco viajam vários personagens. A maioria
vai para Santa Isabel do Rio Negro sem saber bem a razão. Começam tensos, mas
aos poucos vai se instalando um clima de harmonia dentro do barco, até a
chegada à cidade.
A segunda parte mostra o encontro dos viajantes com
representantes da população local: o pajé Coaraci e o casal de índios José e
Maria, pais da pequena Maria de Jesus. Os nomes dos pais e da criança têm
relação clara com o natal; porém, a intenção do texto é passar ideias de
valores que vão muito além das religiões: valores humanos, aceitos por todos
aqueles que acreditam que o mundo pode ser um lugar de paz entre os povos e
entre os indivíduos. Os viajantes fazem oferendas à pequena Jesus e a jovem
Manu transforma as falas em canções.
Para quem acompanha a tradição dramática brasileira, o autor,
Zemaria Pinto, explica que utilizou a estrutura de Morte e vida Severina, de João Cabral de Mello Neto, publicado em
1955, tanto na divisão em duas partes (viagem e encontro) quanto na forma
poemática. Mas enquanto João Cabral faz de seu poema um libelo pela reforma
agrária, Zemaria coloca seus personagens no centro dos problemas mais imediatos
do século XXI: depressão, solidão, abusos sexuais, fragilização da estrutura
familiar etc. Mas a chama da esperança é mantida acesa, com o nascimento de
Maria de Jesus – uma alegoria da renovação da vida e da valorização da mulher
na sociedade deste novo século.
(release)