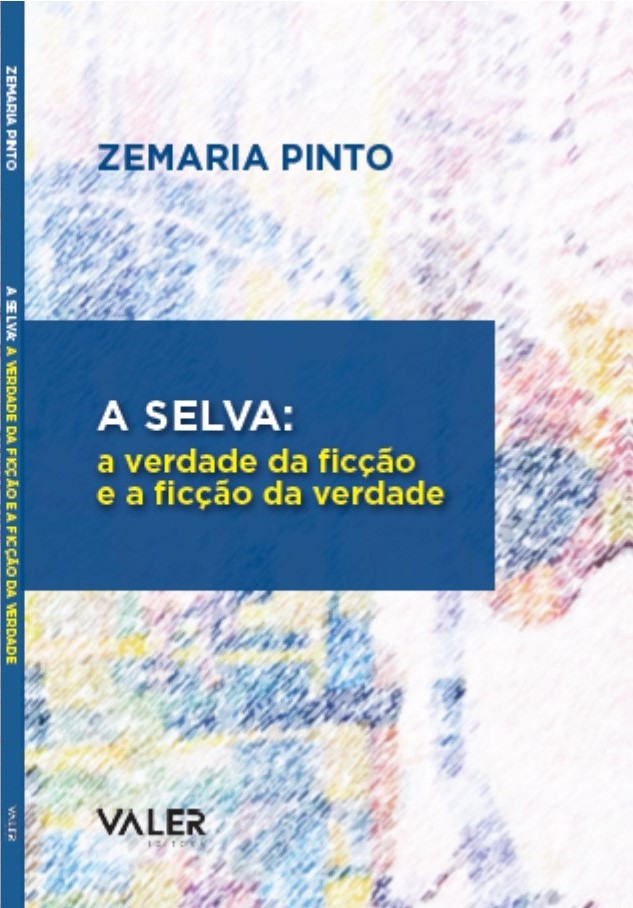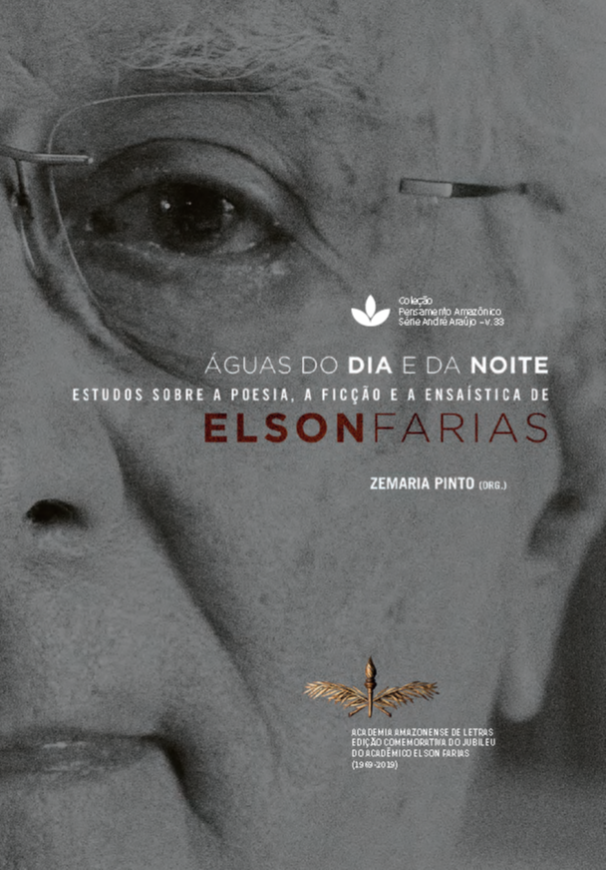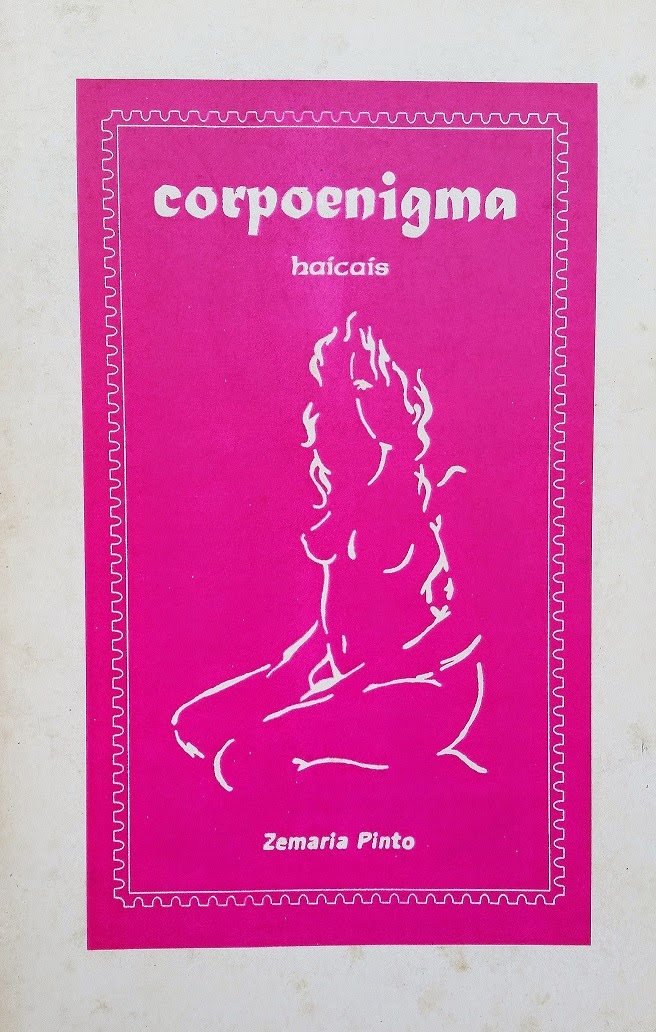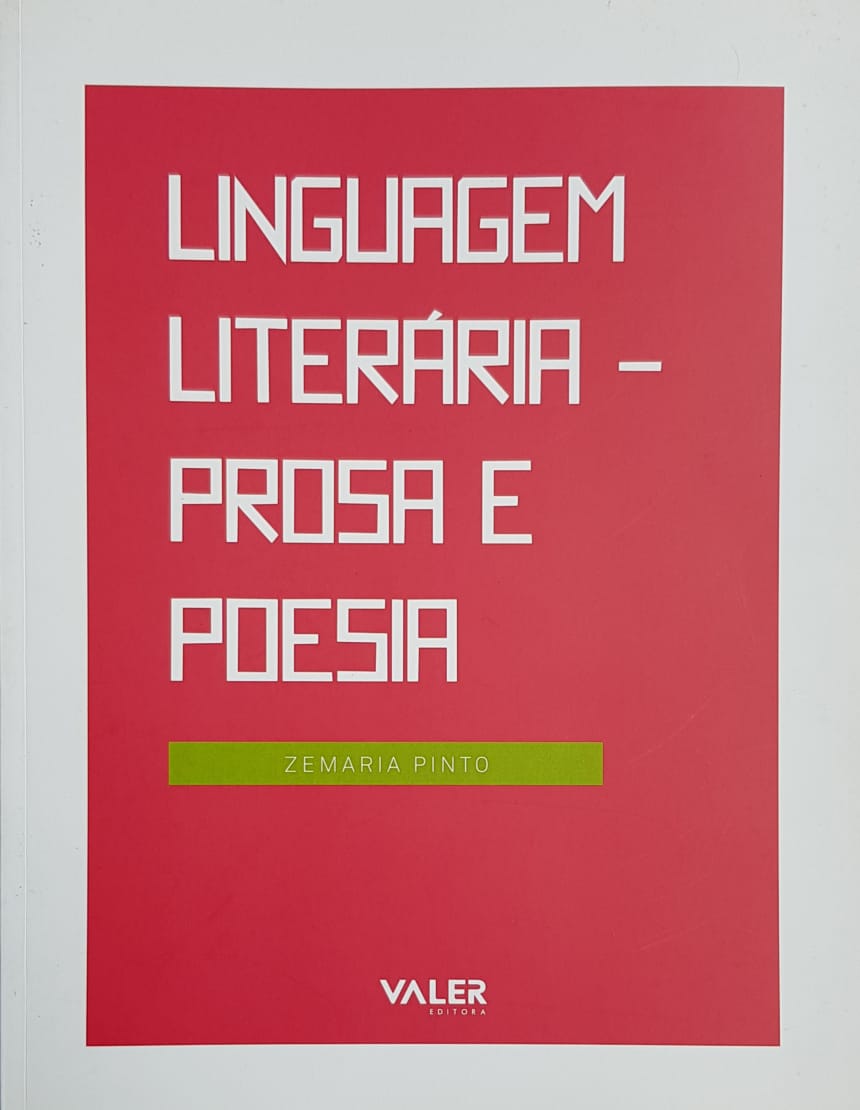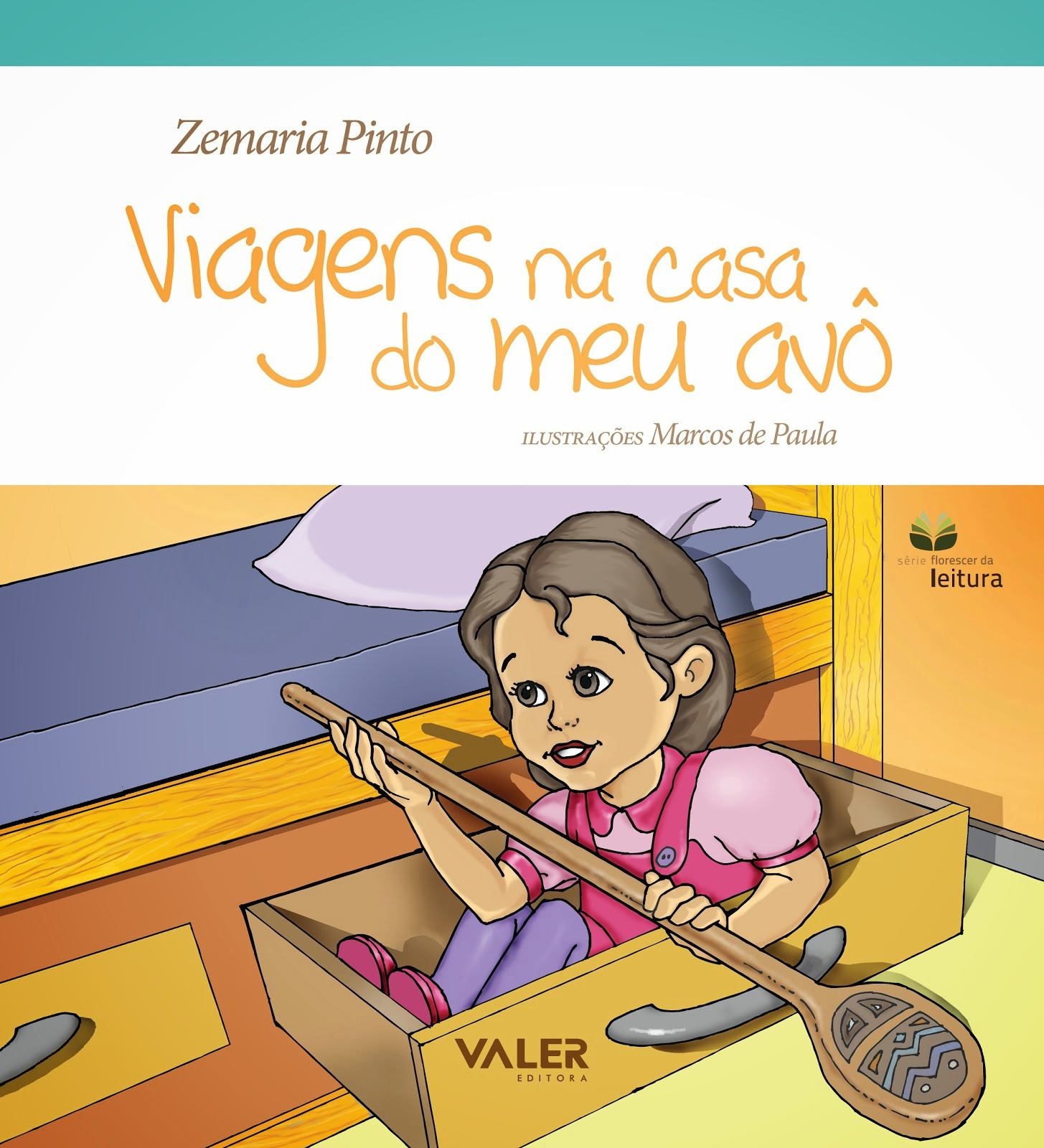Tainá
Vieira
O meu
primeiro livro eu o encontrei na casa de meu avô, Sandoval Gomes. Como eu sei
que um dia iriam pesquisar sobre minha vida, família, meus gostos etc, etc, já
vou logo adiantando um pouco. Esse meu avô era um cara muito incomum, sim,
incomum dos outros avôs daquela cidadezinha do Oeste do Pará. Ele era conhecido
pela sua bravura, era muito respeitado e temido por muita gente, e seus filhos
e netos também eram respeitados. Fazer parte da família e carregar o seu
sobrenome era uma honra. Seu Sandoval Gomes dos Santos foi um pracinha,
expedicionário do exército brasileiro, foi à guerra, mas adoeceu e retornou da
Itália. Não sei bem a história, só sei que quando o me entendi por gente ele
era conhecido como Tenente, era mais respeitado do que o delegado, tinha muitas
terras, muitas cabeças de gado e dinheiro também. Ele tinha uma casa imensa na
qual morava sozinho, sozinho entre aspas, pois todos os dias o casarão ficava
cheio de trabalhadores que iam cuidar de suas terras e plantações.
Todo
trabalhador queria trabalhar para o meu avô, pois ele pagava bem e a comida era
muito boa, ele matava boi e porco, para alimentar seus serviçais. Lembro-me também que havia cozinheiras e
lavadeiras no casarão, essas que depois do jantar iam aquecer a cama de meu
avô, pois ele era separado da vovó. Lembro-me também que meu avô tinha um
motorista. Ele tinha dinheiro, podia desfrutar de tal lazer. Meu avô dava
festas em datas comemorativas, como o dia do soldado, natal etc. As festas eram
grandes e comentadas por toda a redondeza. Em relação à família, filhos e
netos, ele foi inigualável, todos o adoravam. Quando chegávamos ao casarão
tínhamos toda a regalia do mundo, mesa farta, criados para nos servir, podíamos
fazer tudo lá, brincávamos naquele casarão e o deixávamos de cabeça para baixo.
Mas também, tínhamos que ser obedientes e bem comportados, porque, afinal,
tínhamos um nome. Hoje em dia quando leio romances brasileiros, aqueles que
abordam os coronéis, senhores de engenhos e grandes fazendeiros, lembro-me de
meu avô. Um dia, já fui princesa ou sinhazinha e já vivi em um reino.
Eu disse que
o meu primeiro livro eu o encontrei na casa de meu avô. Foi no tempo em que eu
contava 10 anos, o último ano da existência dele na terra. Eu estava sozinha na
casa e comecei a bisbilhotar, entrei num quarto onde meu avô passava a maior
parte do tempo, tinha uma mesa, uma cadeira e uma estante com jornais velhos, e
alguns livros, e também muitas caixas. Olhei para as caixas e elas estavam
cheias de papel, ou melhor, livros e cadernos, me sentei ali e comecei a mexer
naqueles livros, eles me atraíam muito, não tive como me conter, por isso
continuei mexendo. Eram muitos livros, fiquei encantada, nunca tinha visto
tantos livros na vida. Hoje, quando me lembro daquele dia, ainda fico
impressionada, pois não era algo comum ou normal, não para um avô no interior,
ou para um lugar como aquele. Acho que vem de meu avô a minha paixão com os
livros. No casarão, sei que tinha muitos e sei também que meu avô os lia, pois
eu lembro que gostava de ouvi-lo falar, ele falava bonito, tinha uma voz firme,
uma pose e elegância quando dizia palavras.
O livro pelo
qual me apaixonei, era de capa dura e de cor vermelha com o título em letras
douradas e parecia bastante antigo, era uma edição de Quincas Borba, de Machado de Assis. Havia outros livros do Machado,
que mais tarde, já adulta, eu iria ler, mas eu gostei mesmo foi desse, Quincas Borba. Nunca havia contado a
ninguém sobre essa história do meu primeiro livro. Como lembro sempre do meu
falecido avô, resolvi contar. Foi minha primeira vez... Eu peguei o livro e o
levei dali, meu avô não deu falta dele; no outro dia, à tardinha, eu o devolvi.
Gostei demais. Depois, já mais velha, o reli, o reencontrei, e na faculdade,
li-o pela terceira vez, foi quando fiz uma "análise" sobre ele. "Ao vencido, ódio ou compaixão; ao
vencedor, as batatas". Se fosse a autora dele, daria mais vida ao Quincas,
gostei dele, era um homem inteligente, merecia viver mais. Acho-o até um pouco
parecido com Dom Quixote, não sei, são coisas minhas, eu sou assim, lembro de
muita coisa ao mesmo tempo, mas não esqueço uma coisa: o Quincas. Então, a
história começa com o seu Sandoval Gomes, que era meu avô, que tinha um casarão
cheio de livros, eu era neta dele e peguei um livro seu e o li, me apaixonei
por Machado e muito mais por Quincas Borba e por outros loucos iguais a ele,
como Dom Quixote, e assim me tornei uma lunática também e com um propósito: lembrar
dos loucos.