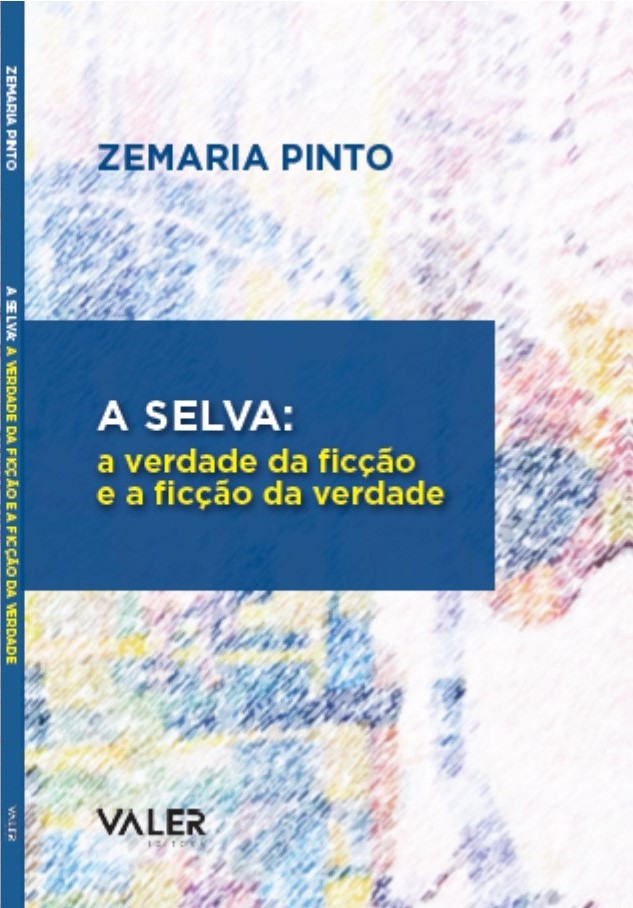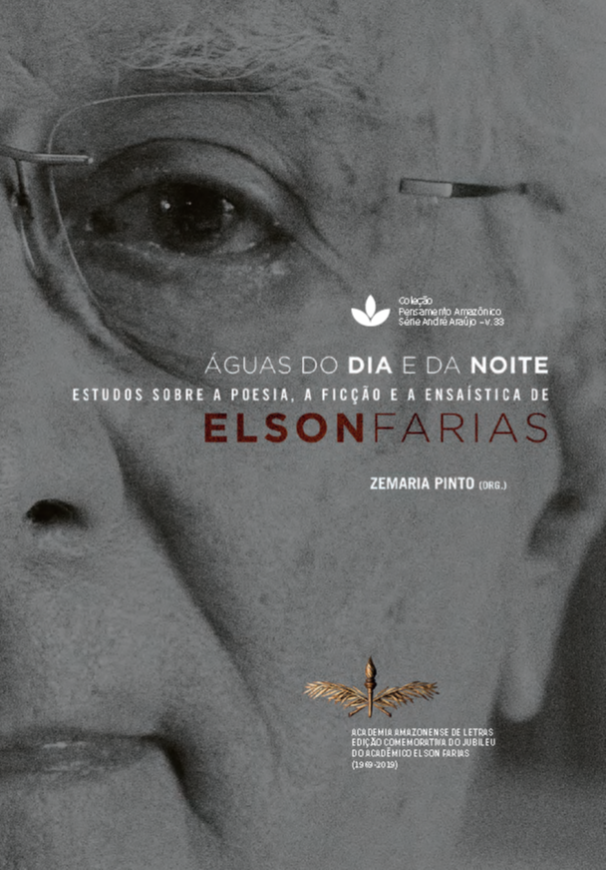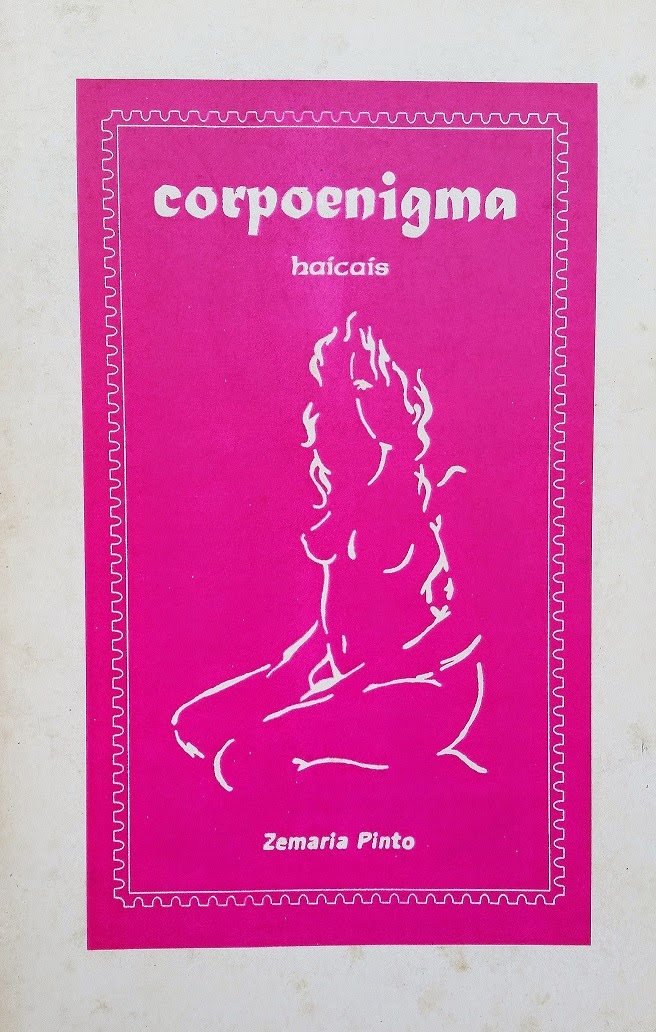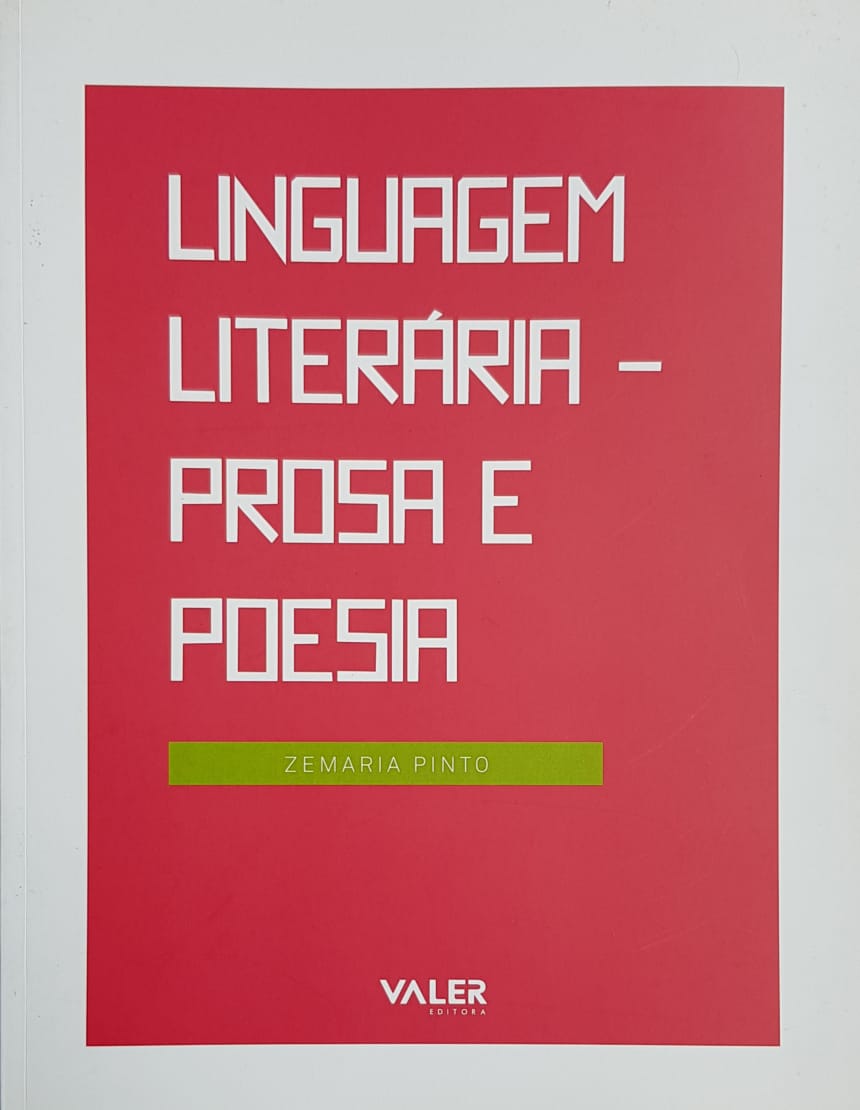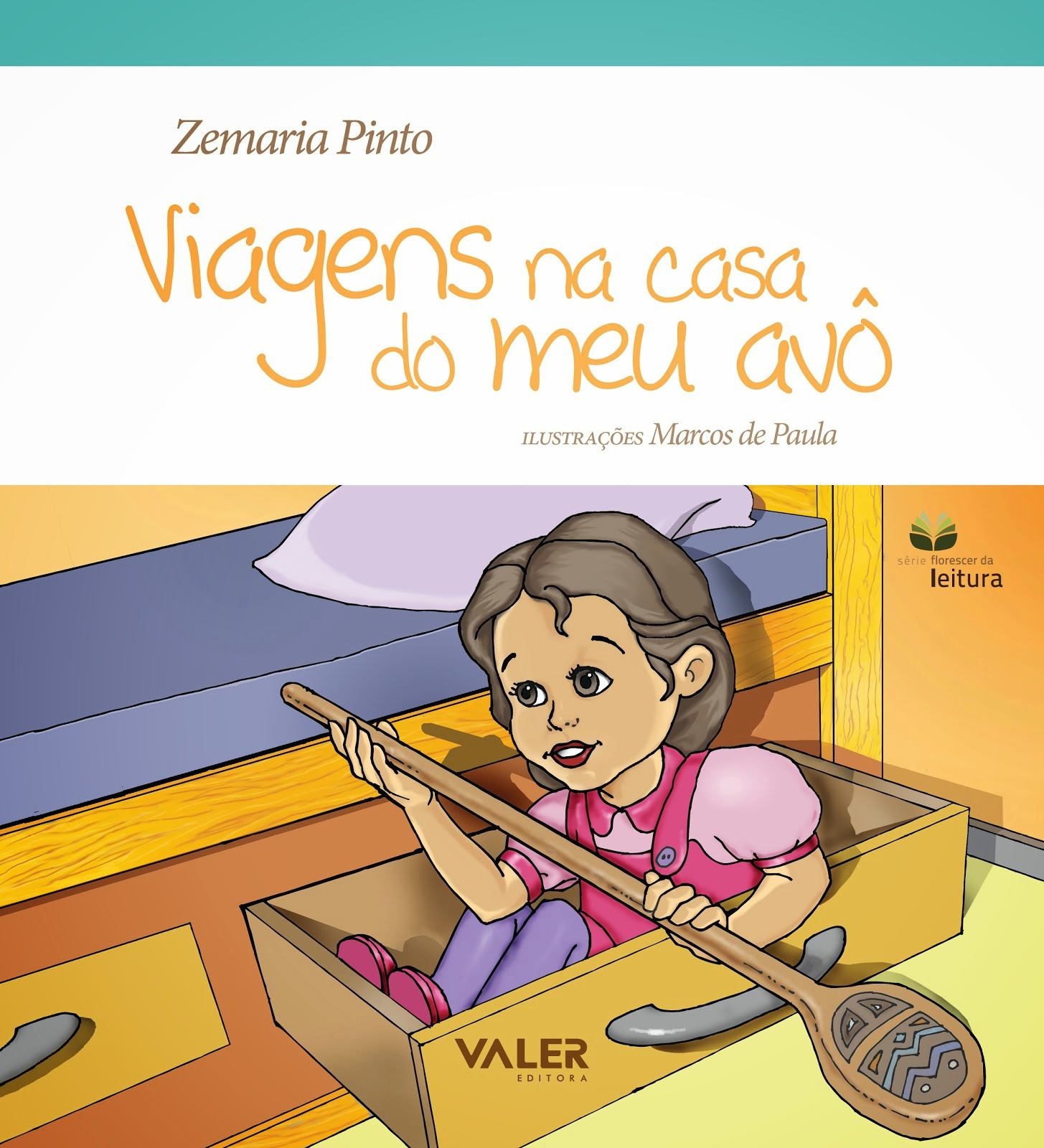Zemaria Pinto
Exotismo, clichês e
disparates
O olhar estrangeiro (inclusive, de dentro do
Brasil) tende a ver a Amazônia pelo prisma do exotismo, desde Gaspar de
Carvajal, passando pelos viajantes fabulosos – como Raleigh e Acuña –, além da
ficção de Julio Verne, Conan Doyle e Gastão Cruls. Nem a lucidez barroco-expressionista
de Euclides da Cunha escapa à armadilha. Entre tanto que escreveu sobre a
Amazônia, preparando seu segundo “livro vingador”, costuma-se repetir a frase
oca – edênica, lírica, mas sem sentido: “a Amazônia é a última página, ainda a
escrever-se, do Gênesis” (CUNHA, 2001, p. 27). Um prefácio de Euclides da Cunha
valia por toda uma literatura.
Aplicada a um autor português, a assertiva
acima tem um certo atavismo: afinal, oficialmente, o português foi o primeiro
invasor destas terras, onde, ainda que ligado por laços de quase-propriedade,
ele se sente um estrangeiro porque é um não-integrado. A Amazônia como a vê
Ferreira de Castro é um amontoado de clichês e disparates. Falando de Lourenço,
por exemplo, que não aceitava o ofício de seringueiro, ele sintetiza a lendária
“indolência inata” do caboclo amazônico “numa barraca, numa mulher e numa
canoa” (p. 116). Não há como não lembrar o macunaímico bordão: ai, que
preguiça!...
A
viagem ao seringal Paraíso, de cerca de 15 dias, ocupa 32 páginas de
descrições, próximo a um sexto do total redigido. A selva, os rios e as pessoas
são representados ao longo do livro com clichês animalescos: “imensurável
aranha hidrográfica” (p. 42); “monstro líquido” (p. 49); “a pata enlameada que
a Amazónia fundia no Atlântico” (p. 64); “a selva, como uma fera (...)” (p. 77).
A pequenez do homem diante da selva monstruosa é descrita com uma grandiloquência
melodramática:
E o homem, simples transeunte no flanco do
enigma, via-se obrigado a entregar o seu destino àquele despotismo. O animal
esfrangalhava-se no império vegetal e, para ter alguma voz na solidão reinante,
forçoso se lhe tornava vestir pele de fera. (...) Dir-se-ia que a selva tinha,
como os monstros fabulosos, mil olhos ameaçadores, que espiavam de todos os
lados.” (p. 84)
E
mais adiante: “aquele mundo vegetal tinha cruéis egoísmos, ferocidades
insuspeitadas e tiranias inconfessáveis” (p. 131). Nem os animais escapam à
fúria criativa do narrador infiel: ao descrever uma onça, ele diz que “a
folhagem quase não rangia sob o seu listado corpanzil” (p. 164). Estava,
decerto, vendo mentalmente um tigre africano.
O
clichê mais usado pelo narrador para demonstrar a animalidade da gente que ia
para o Paraíso (um trocadilho, por si só, infame) é “rebanho”: nove vezes.
Literalmente, desde a primeira página, quando Balbino reflete, via discurso
indireto do narrador, sobre a perda de três “brabos”, que ele arregimentara no
Nordeste e escafederam-se:
Que diria Juca Tristão, que o tinha por
esperto e exemplar, quando ele lhe aparecesse com três homens a menos no
rebanho que vinha pastoreando desde Fortaleza? (p. 27)
O
mesmo chavão serve também para descrever os imigrantes japoneses, que chegam no
seringal, para trabalhar na agricultura:
Era rebanho copioso, de pele seca,
proeminências ósseas nas faces e olhar mortiço de quem regressa de outro mundo.
(p. 188)
Ressalve-se
que a desgastada metáfora é de uso exclusivo do infiel narrador e não pode,
absolutamente, ser atribuída ao humanista autor.
A
descrição de uma tempestade amazônica é o mote para uma cacofônica metáfora
musical, quando ouvimos a exótica “orquestra infernal” da “selva endemoninhada”:
a “monótona cantilena” cotidiana passa a uma “triste litania” – “um uivo forte,
perene e agoirento” – e logo transforma-se em “música épica e desesperada”, “um
concerto de instrumentos desvairados”. Quando amaina a “doida apoteose de fim
de mundo falido”, a selva “era um monstro que estava ali, pesado, inofensivo, a
bramir um sofrimento que não despertava piedade” (p. 133-135).
Outra
metáfora musical é usada, com mais rigor, para expressar o silêncio, embora insista
na antropomorfização da floresta, uma armadilha do exotismo:
E por toda a parte o silêncio. Um silêncio
sinfónico, feito de milhões de gorjeios longínquos, que se casavam ao murmúrio
suavíssimo da folhagem, tão suave que parecia estar a selva em êxtase. (p. 77)
Quando
Guerreiro, o guarda-livros, é apresentado ao leitor, o descuidado narrador diz
que era “o primeiro homem branco que Alberto via no seringal” (p. 111). Ainda
em relação a Guerreiro, o narrador diz que Alberto sente-se próximo a ele “pela
cor de sua pele” (p. 153). Ao trocar confidências com Firmino, este deixa
escapar, subserviente: “eu tenho pena de seu Alberto. O seringal não é para um
homem com a sua pele” (p. 92). O infiel narrador não esconde suas preferências
arianas. A trama se passa há mais de 30 anos da Lei Áurea, quando os escravos
deixaram essa condição para serem brasileiros, mas não cidadãos, pois eram apenas
párias miseráveis. Esse arianismo seria um resquício do choque de raças que o
autor, tido e havido como um humanista, presenciara, ainda em criança, ao
aportar na babel Belém do início do século XX ou apenas mais uma infidelidade
do narrador? A cartilha realista-naturalista ensinava que, do trinômio
hereditariedade-meio social-momento, a carga genética era o fator decisivo.
Os 14 capítulos de A selva:
a verdade da ficção e a ficção da verdade serão publicados sempre às segundas-feiras.
Mas você pode obter o livro completo clicando nesta linha.