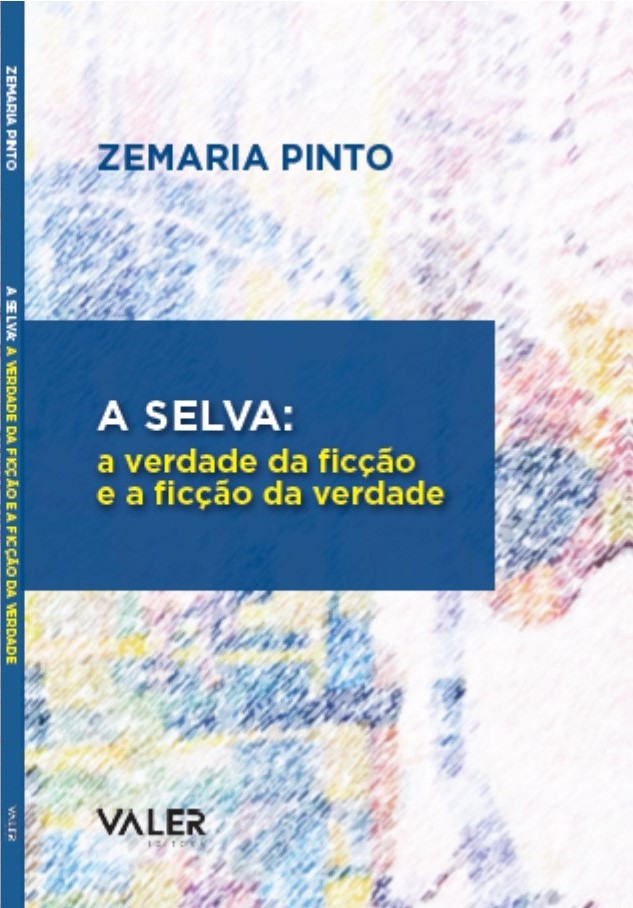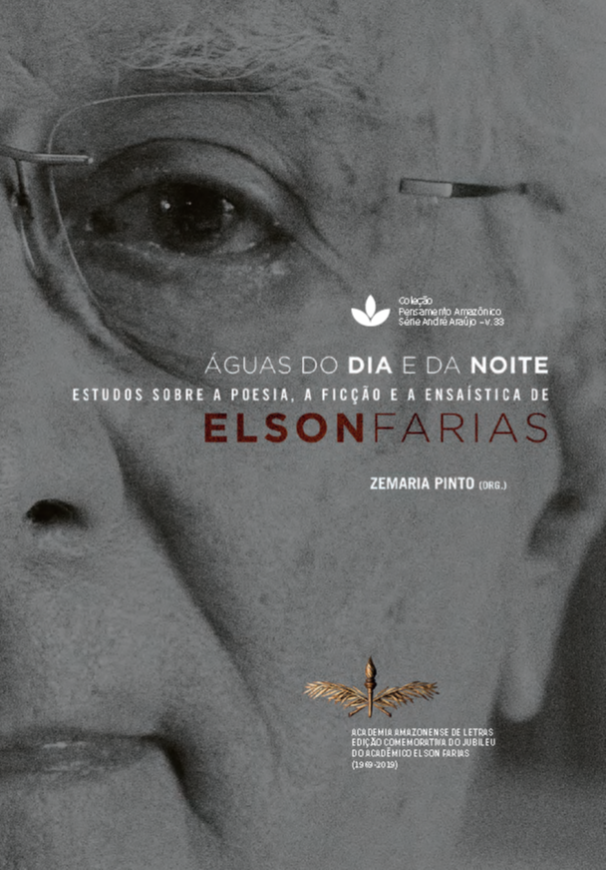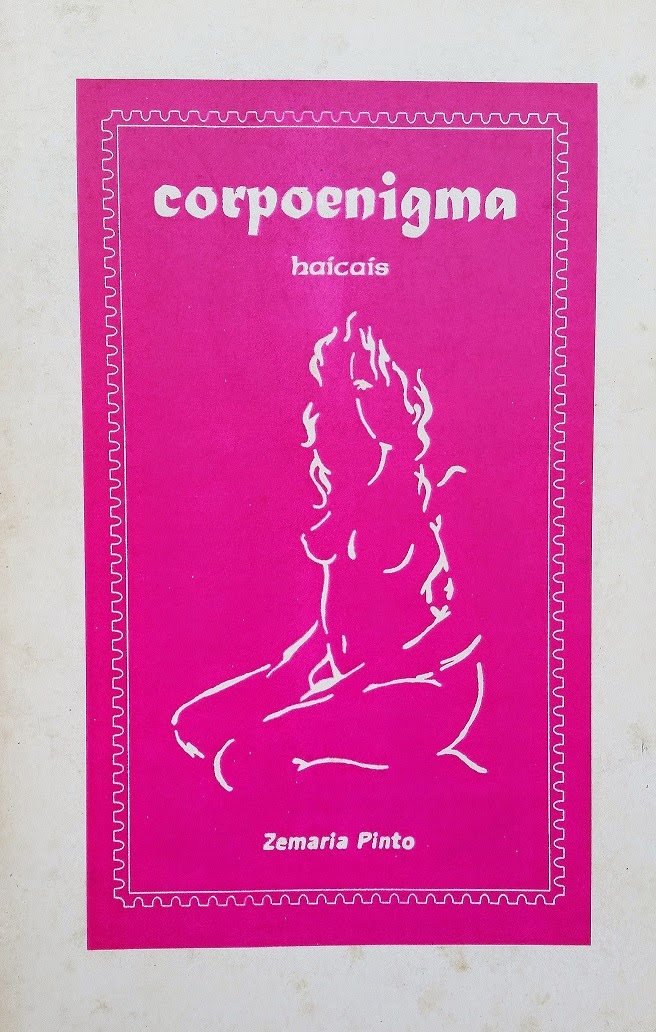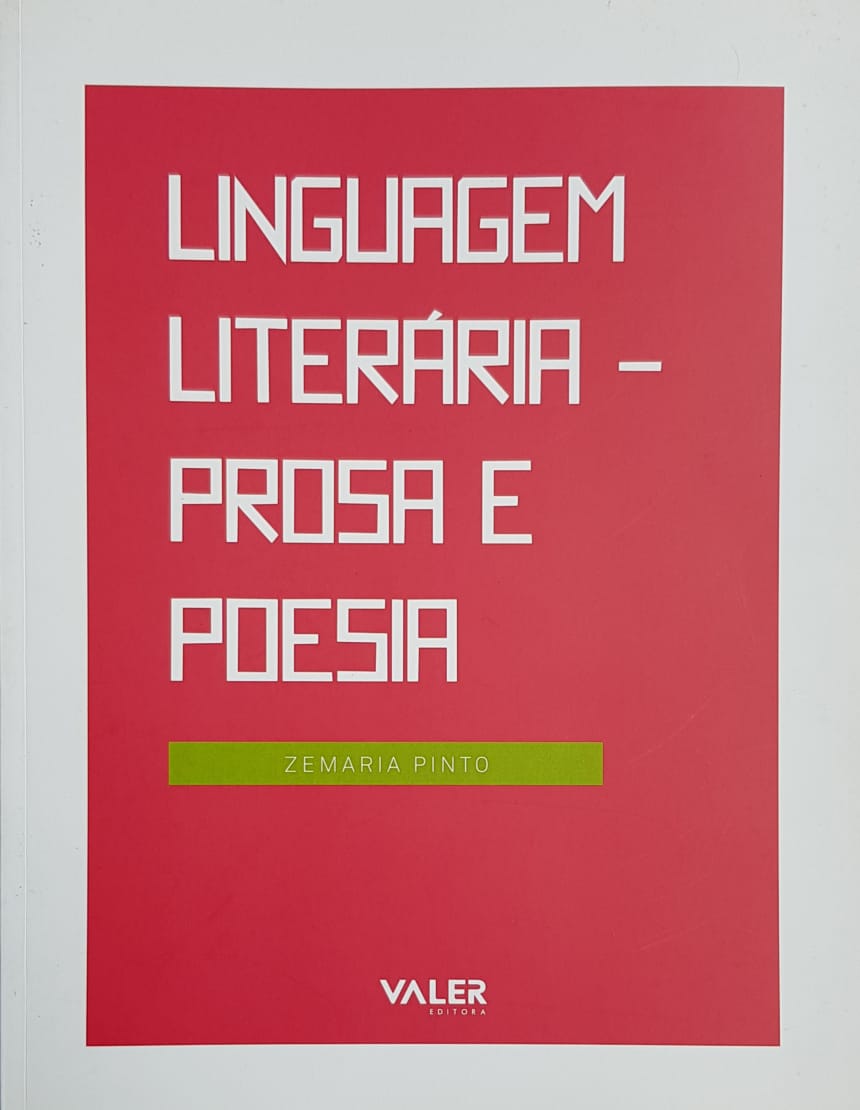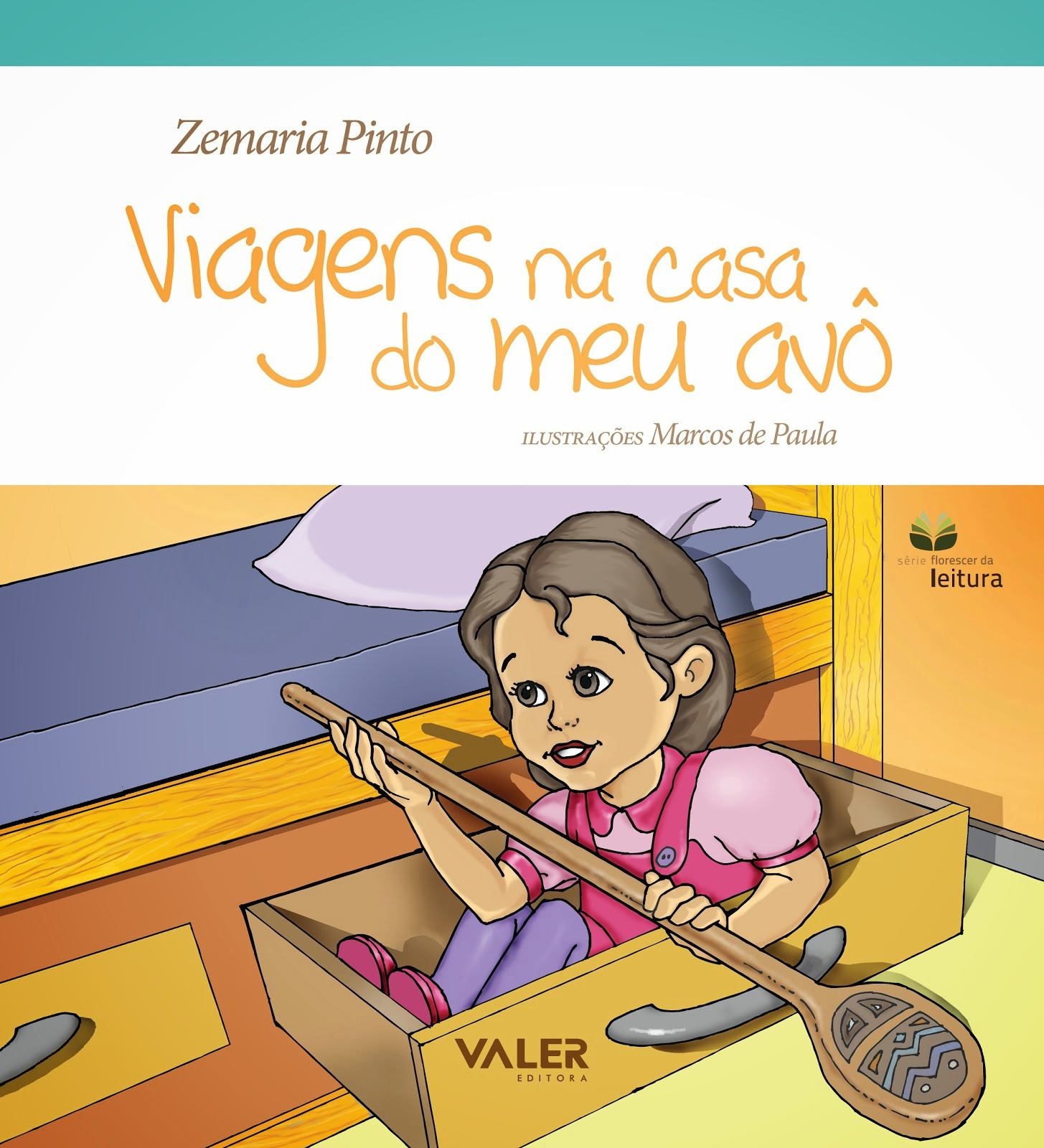Zemaria Pinto
São muitas as surpresas que esta coletânea
guarda. O inicialmente bilaqueano, pelo que tem de didático, “A Escola”, por
exemplo, construído em oito décimas e uma quadra, de repente, adota um
inusitado tom castro-alveano:
O livro, amigos, que aos
pulsos
Da noite atira grilhões,
Lembra os violentos
impulsos
Das águias das
vastidões...
Condor – os astros
atinge!
Prometeu – derroca a
esfinge
Que as sombras erguem nas
frontes...
Aves! ao sol feito em
brasas!
Vamos molhar nossas asas
Nas tintas dos horizontes!...
Não, nem Bilac nem Castro Alves – é
Maranhão Sobrinho, arquiteto de imagens inigualáveis:
A escola, ó almas
sonoras!
Almas de moços sem véu!
É um Amazonas de auroras
Que se despeja do céu!
(...)
Os livros, almas
libertas,
São águias de asas
abertas
Voando no céu da
glória...
Voemos, a cheios panos,
No dorso dos oceanos
(...)
Os lábios têm na escola
As hóstias da comunhão...
Poemas de delicada feição sensual, como
“Vês?”, “Fausta” e “Soneto (VI)” dão um tom mundano aos acordes românticos e místico-simbolistas
da lírica de Maranhão Sobrinho; uma sensualidade que apenas se insinua – sob a
renda, ou sob a camada de símbolos com que ele vela os corpos de suas musas. “Teresa”,
por exemplo, tem os “pezinhos cor de rosa”, a gravar “sonetos doces” e “estrofes
raras” na “suave areia” e é a “casta e meiga flor” da aldeia. Teresa retorna no
belíssimo “Necrópole” – em que o poeta descreve um “cemitério antigo”, onde “em
cada cova há um bem, que amei, que é morto”:
Neste leito final, sob
este ermo cipreste,
Descansa o beijo teu,
dorme também, Teresa,
A última promessa azul que me fizeste...
A “promessa azul” frustrada por Teresa é
um achado poético sublime, pois, parafraseando Fernando Pessoa, o azul é o nada
que é tudo, não fosse o azul a mais imaterial das cores, formada apenas por
transparências ou vazios acumulados: de ar, de água, de cristal e até de cor,
pois o reflexo natural do negro é o azul. O acúmulo de vazio é exato, casto e
frio, mas falso. Ah, Teresa...
O “Soneto (II)” promove um insólito encontro
do poeta com Virgílio. Emulando um Dante tropical, os dois penetram na
floresta, mas não no inferno verde, sim “num templo, em místicas oblatas...”:
– Mestre! eu exclamo, em
tudo há luz e festa!
Tudo parece amar! O amor
palpita
Em tudo! A tudo o amor sua
luz empresta?
Virgílio, então, me diz:
“Deus grande e mudo
É o amor! Deus é o amor,
e em tudo habita;
Logo o sereno amor habita em tudo!”
Outras homenagens aparecem no livro;
explícitas, como em “Shakespeare”, ou em “Isabel”, um louvor à princesa “cheia
de Deus”; e veladas, como no “Soneto (IX)”, publicado em 1910, que retoma um
dos temas principais de seu livro de estreia – a veneração sincera à Virgem Maria,
à qual se opõe um literário culto a Satã.[1]
Por tuas próprias mãos,
formosas, teces
Os véus da aurora e o
céu, que tu dominas...
Vêm de tua boca as
perfumadas preces
Que às almas tristes, sem querer,
ensinas...
Por demais me alongo neste espaço, que é
de Kissyan Castro, mas, sobretudo, de Maranhão Sobrinho. O reencontro com o
poeta das Estatuetas – livro que só
agora, graças à generosidade de Kissyan, irei conhecer – reavivou-me a crença
de que a poesia é, sim, necessária, e que nós, poetas, professores, leitores, temos
o dever de continuar a pregar no deserto e ao mar aberto, tornando o sonho
possível, como no poema “Tempos idos”, em que “Poetas e cavaleiros só viviam /
Por seu Deus, por seu Rei, por sua Dama.” É preciso que nos insurjamos, pela
poesia, contra a solidão em que vivemos – individual e coletivamente.
[1] Ver o ensaio
“Maranhão Sobrinho, o místico de Satã”, de Zemaria Pinto, in Papeis velhos... roídos pela traça do
símbolo: 2ª edição, Manaus, Valer, 1999.